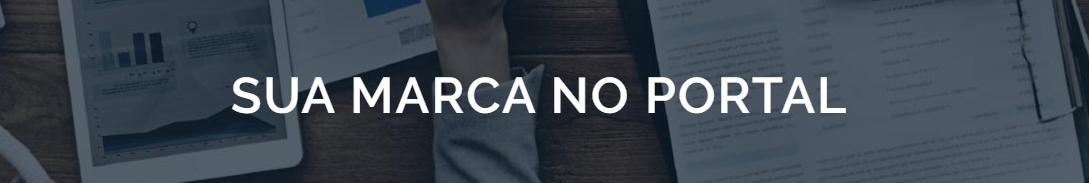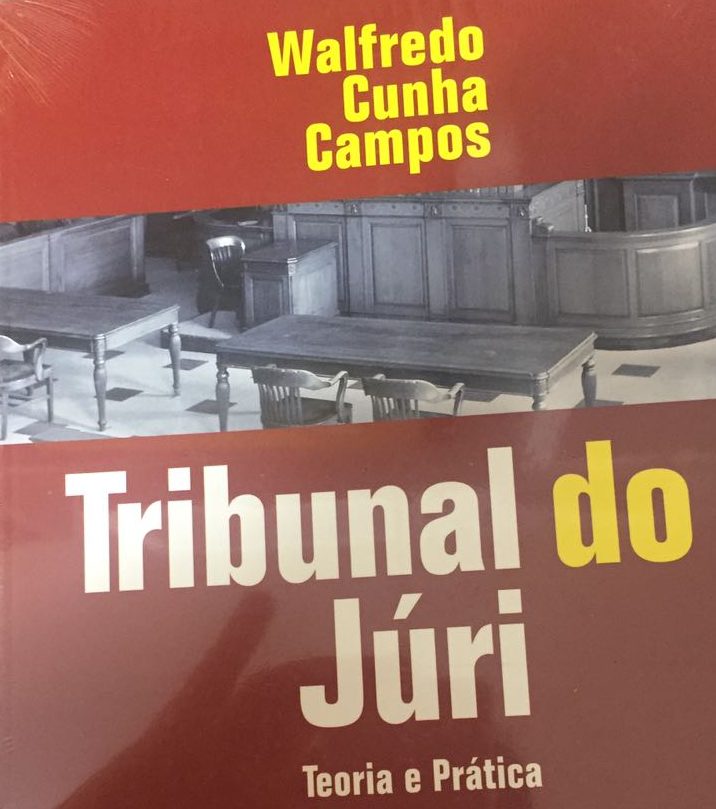
A importância da impronúncia, sob a ótica de um promotor de justiça

“Hoje nós vivemos a cultura da pronúncia. Pronuncia-se por nada ou quase nada (em termos de provas)”, constata o promotor Walfredo Cunha Campos
Por Walfredo Cunha Campos (*)
Com base nessa terminologia infeliz do Código de Processo Penal (CPP), ao mencionar “indícios suficientes de autoria” para a pronúncia, criou-se um mito, o do in dubio pro societate, qual seja: se, terminada a instrução da primeira fase do rito escalonado do júri, houver dúvida a respeito da autoria, o juiz deve remeter o caso para que seja decidido pelo tribunal leigo, preservando, assim, a competência constitucional do júri.
Em primeiro lugar, no campo puramente jurídico e lógico, nunca o juiz decide embasado em dúvida(s). Ou ele tem certeza de que existem as condições para se remeter o caso a julgamento pelo júri, ou ele tem certeza de que tais requisitos não se encontram presentes. Ele não fica em dúvida.
Em segundo lugar, analisando-se a finalidade do nosso procedimento do júri, chegamos à conclusão de que o rito só é escalonado em duas fases, porque o legislador entendeu que remeter alguém a julgamento por seus pares não é um passeio dominical, mas algo muito sério, constrangedor ao extremo para o réu, que ocupa o banco da ignomínia e, por que não, constrangedor também para a sociedade, que vê um integrante seu em posição vexatória, expondo até às vísceras as mazelas daquele agrupamento humano.
Sendo assim, para se evitar constrangimentos, humilhações e vexames inúteis (para o acusado, principalmente, mas também para a comunidade), em processos que não tenham provas ou sejam elas raquíticas, deve o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e materialidade, barrando os demais com a impronúncia.
Ensina Inocêncio Borges da Rosa: “O artigo 408 do Código do Processo não exige, para a pronúncia, expressamente, que haja indícios veementes de ser o acusado o autor da infração penal. Fala só em indícios, mas fica subentendido que a pronúncia não deverá ser decretada com apoio em indícios fracos, remotos, vagos, de maneira a ocorrer a dúvida séria de autoria. […] Pondo de lado o vigor da expressão veementes, dizemos que os indícios devem ser ‘suficientes’ para gerar a presunção-convicção de ter sido o acusado o autor ou coautor do crime, exigindo muito esforço de raciocínio ou de argumentação admitir não ser isto verdadeiro”.
E arremata o mestre: “A lei, porém, exige indícios veementes, presunções fortes, e como tais se consideram os fatos conhecidos que, pela sua força e precisão, são capazes de determinar uma só e única conclusão: isto é, de que não foi outro senão o indiciado o autor ou cúmplice do fato criminoso”. 1 (O artigo atual é o 413 do CPP.)
Não discrepa desse entendimento a lição de Ary Azevedo Franco, ao estudar em que bases pode ser pronunciado o acusado: “Indícios veementes, pois, e não simples indícios, porque isto constituiria a entrega de uma arma perigosíssima ao juiz e ficariam continuadamente periclitantes a liberdade e a honra do cidadão. […] Nenhum magistrado, culto e compenetrado de suas responsabilidades constantes seria capaz de pronunciar alguém por simples suspeita vaga, incerta, por simples indício duvidoso”. 2
Ora, se para decretar-se o sequestro de bens é necessária (art. 126 do CPP) a existência de indícios veementes da proveniência ilícita dos bens, como se remeter alguém a júri com menos prova que aquela exigida para a mera constrição provisória de parte do patrimônio de uma pessoa, quando o que está em jogo é a liberdade do indivíduo?
Essa a ratio da primeira fase do procedimento do júri: enviar para tal órgão de justiça apenas processos com provas sérias e confiáveis de autoria e materialidade delitivas. Mas como sua finalidade é incompreendida! Remetem-se indiscriminadamente ao júri processos em que está ausente uma prova digna de tal nome da prática da infração (julgamentos que certamente redundarão em absolvições), mantendo-se muitas vezes preso preventivamente o réu… E para nada! Unicamente porque se acredita naquele brocardo: in dubio pro societate, totalmente desligado da vida, da realidade, dos fins sociais e do bem comum!
Relembremos novamente Inocêncio Borges da Rosa: “Submeter um cidadão a julgamento, levá-lo à prisão, sem se ter certeza, pelo menos relativa, da existência do crime que lhe é atribuído, será dar lugar a que campeiem soberanamente a intriga, a maledicência, as falsas denúncias e os testemunhos falsos, dando causa a numerosas injustiças”. 3
Com uma maior análise da prova pelo juiz togado nesta primeira fase, controlando de fato o envio de processos ao tribunal leigo, não se maculará a competência constitucional do colegiado, mas tão somente depurar-se-ão, na fase de pronúncia, os casos criminais que merecem ser mandados a júri. Esse o verdadeiro sentido do judicium accusationis, cuja constitucionalidade nunca foi contestada. Está na hora, então, de o juiz técnico exercer verdadeiramente esse controle que a lei lhe dá.
E como? É simples: lendo o magistrado os autos, entendendo jurídica e justa, pelas provas coligidas, uma condenação do acusado – caso em que, num exercício mental, colocando-se na posição hipotética de julgador do caso, chega à conclusão de que, se pudesse julgar o réu, seria provável sua condenação –, deve remeter o caso ao Tribunal do Júri. Caso a sua conclusão, entretanto, seja oposta – de que em hipótese alguma condenaria o acusado com as provas inexistentes ou imprestáveis dos autos, não há por que se remeter tal caso a júri, sendo correto impronunciá-lo.
Como já tivemos oportunidade de verificar, o Tribunal Popular, além de ser um instrumento de participação direta do povo na Justiça, tem sua natureza ligada, predominantemente, a uma garantia individual da pessoa acusada de ter praticado um crime doloso contra a vida.
Ora, qual o sentido de ser do júri como garantia individual se, na prática, remetem-se a julgamento pelo Conselho de Sentença processos sem prova ou cujo conteúdo é débil, em hipóteses que o próprio juiz togado, de plano, absolveria? É para dar chance aos jurados de condenar um possível inocente? Se assim fosse, que garantia individual estúpida seria essa! Melhor, então, que não houvesse o júri: o próprio juiz se incumbiria de absolver de plano o imputado, por ausência ou falha dos elementos de convicção, sem que o réu corresse o risco de ser condenado pelo órgão criado para proteger sua liberdade. Protegê-la, cassando-a?
Hoje nós vivemos a cultura da pronúncia. Pronuncia-se por nada ou quase nada (em termos de provas). Alguns até pensam que, pelo mesmo motivo de ter sido recebida a denúncia, já há razões de sobra para ser prolatada a pronúncia. Então, pergunta-se: por que existem duas fases procedimentais no júri, se a primeira não é seletiva?
O mito do in dubio pro societate tem causado diversos e intensos males:
a) o inútil constrangimento de quem não deveria, sem provas dignas desse nome, ocupar o banco da vergonha;
b) o menosprezo dos jurados pela Justiça. É de nossa lembrança, num mês de reunião de júri na comarca em que atuávamos, em que em todos, repito, todos os julgamentos do mês, que eram sete, fomos obrigados a pedir absolvição por insuficiência de provas! Que conceito farão os jurados a respeito da instituição do júri: um circo montado para julgar casos inúteis, em que já se sabe qual é o veredicto, um palco de injustiças e humilhações a pessoas que não mereciam lá estar (lembro-me de casos nítidos de legítima defesa em que a vítima sobrevivente de um assalto virou acusado!). E o descrédito devotado ao júri pelos próprios jurados já é o início do fim da importância efetiva da instituição popular na Justiça brasileira;
c) a impronúncia é uma grande arma de defesa da sociedade, cuja importância ainda não foi percebida por seu defensor, o membro do Ministério Público. Diz o parágrafo único do art. 414 do CPP, in verbis: “Enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia ou queixa se houver prova nova”.
Isso significa dizer que, enquanto o acusado não morrer ou não ocorrer a prescrição da pretensão punitiva do Estado, poderá haver, surgindo provas inéditas, novo processo por idêntico crime. Evidente a utilidade para a sociedade de tal dispositivo.
Vem-nos à memória um caso que nos reforçou a convicção da importância da decisão de impronúncia. Era um processo de homicídio qualificado, por motivo fútil. Um pai de família, honesto, trabalhador, foi até uma quermesse à noite e, por ter esbarrado no réu, acabou por levar, por esta banal motivação, dois tiros letais. Finda a primeira fase, nenhuma prova em juízo surgiu, nada, absolutamente nada; as testemunhas oculares do fato criminoso, ouvidas na fase do inquérito policial e que deram arrimo à acusação, desapareceram. Diante de tal quadro, ausente qualquer prova de autoria produzida em juízo, entendi que outro caminho não havia que pedir a impronúncia do acusado, o que foi acatado pelo juiz.
Dois anos depois, fui procurado pela mãe e tia da vítima, as quais me afirmaram que tinham encontrado testemunhas presenciais do crime e que elas estavam dispostas a depor. Colhidos os novos depoimentos na polícia, foi oferecida outra denúncia, decretada a preventiva do increpado (que estava ameaçando os novos depoentes, como provavelmente fizera com as testemunhas anteriores que, por isso, desapareceram da cidade). Na instrução contraditória, os depoimentos contra o réu foram contundentes. Levado a julgamento pelo júri, foi o acusado condenado a 14 anos de reclusão.
Imagine-se, entretanto, se nós, acreditando no malsinado in dubio pro societate, tivéssemos pedido a pronúncia e o juiz, igualmente convicto dessa falácia, pronunciasse o acusado: certamente o acusado seria absolvido pelo júri, por insuficiência de provas, e tal decisão transitaria em julgado materialmente, impossibilitando qualquer futura discussão a respeito de seu mérito. Seríamos então procurados por aquela mesma família para que se fizesse justiça ao assassino de seu ente querido. E o que se poderia dizer? Que nada mais poderia ser feito? Explicar para a mãe da vítima, que faleceu deixando duas filhas pequenas, que o assassino de seu filho nunca seria punido, embora tivessem surgido provas flamejantes de autoria? Explicar para ela que tal impossibilidade se dá porque o promotor, em tese defensor da sociedade, da vítima e de seus parentes, não soube fazer uso de um instrumento dado pela lei a ele?
A questão é lógica: se existe a possibilidade de se apurar, de verdade, com provas sérias, a autoria de um crime doloso contra a vida, nos próximos 20 anos (prazo máximo da prescrição em nosso País), por que descartar tal oportunidade, matando a esperança de futura realização de justiça?
(*) Promotor de justiça do Ministério Público de São Paulo, é autor dos livros Tribunal do Júri – Teoria e Prática (Atlas/Gen) e Nos Tribunais do Júri (Primeira Impressão).
Referências:
1. ROSA, Inocêncio Borges da. Processo penal brasileiro, v. 2, p. 497.
2. FRANCO, Ary Azevedo. O Júri e a Constituição Federal de 1946, p. 89-90.
3. ROSA, Inocêncio Borges da. Processo penal brasileiro, v. 2, p. 501.